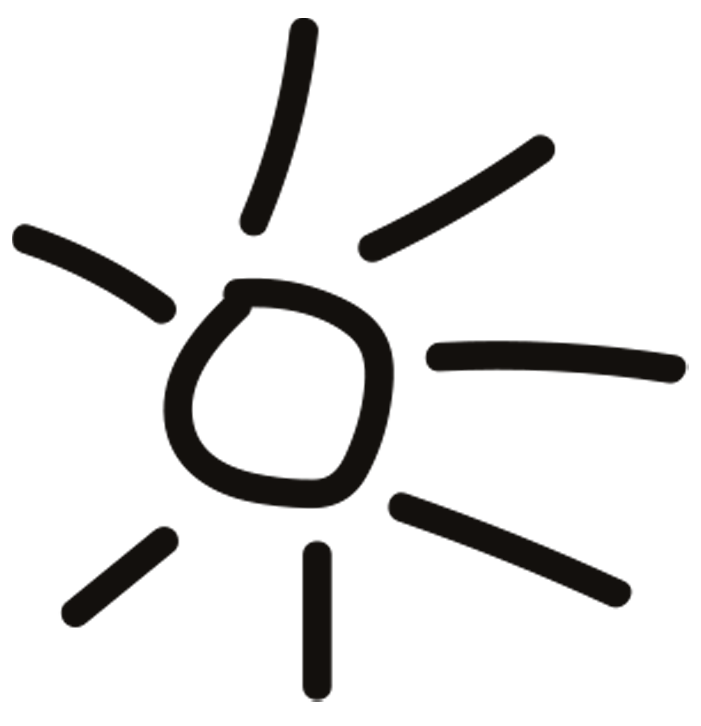Minha família chegou em Itacuruçá em 1964. Antes, alugávamos uma casa ao lado do Xadrez, no centro, desde 1950. Nasci no Rio de Janeiro em 1948, mas com dois anos passei a frequentar a cidade. Chegava em 2 de janeiro e ia embora só depois da quarta-feira de cinzas, além das férias de julho, Semana Santa e feriado de Finados. Quando eu era pequeno, Itacuruçá só existia do campo de futebol para “lá”. Na década de 1960, que começou o bairro chamado de Brasilinha e a fazenda começou a lotear. Depois veio a Marina. Era um veranista recorrente, com dois anos, minha irmã com quatro e meu irmão com seis anos. Meu pai, militar da Marinha, chegou a ficar seis meses lotado em Mangaratiba, e meu irmão estudou na escola com Kakau, então fizemos muitas amizades no bairro. Não tinha luz, as ruas não tinham nada e eram de barro, só na década de 1960 começou o calçamento. Ainda era Estado da Guanabara, fora do Rio de Janeiro, então eles tinham uma sucursal da polícia no local, que era o Queiróz: um policial que ia para a estação de trem e controlava quem entrava e saía. Ele conhecia todo mundo, então se você tentasse desembarcar e o morador não estivesse em casa ou não conhecesse um morador, Queiróz não deixava o passageiro desembarcar e mandava seguir no trem para o centro. Lembro de ser tudo muito pequeno, uma grande família. No trem, tinha o vendedor que vendia os jornais que vinham do Rio. O morador que comprava depois ia na casa dos que não tinham podido comprar para emprestar o jornal lido. Andava-se com lampião para todos os lados, a luz demorou a ser instalada e vinha do Centro de Mangaratiba. No verão, quando a cidade estava cheia, o filamento ficava em brasa, mal acendia. Para escutar um rádio, ainda artigo de luxo, era preciso um transformador para fazer os 25w virarem 110w. Então os moradores iam para as casas uns dos outros para ouvir as notícias ou a novela, até porque a maior parte do bairro era muito pobre. A água sempre foi muito boa, vinda direto das cachoeiras da região e ainda hoje. Em Itacuruçá haviam dois clubes: o Iate e o 26 de Julho. O Iate Clube de Itacuruçá surgiu em 1948 e tinha a área de turistas e a de moradores, segregada pelo próprio pessoal do clube. Na época, por causa das ilhas, Itacuruçá reunia um pessoal com muito poder aquisitivo, como é hoje em Angra dos Reis, mas, na época, Angra tinha acesso muito difícil e a Ilha Grande tinha o presídio, então não se podia fazer nada lá. Para chegar, apenas de trem ou de carro, e uma vez no local as famílias ficavam durante toda a temporada de verão. O pessoal que tinha casa de veraneio nas ilhas era ainda mais segregador e não aceitava a integração com moradores – pretos, então, de jeito nenhum, nem como garçom, no máximo como barqueiro. Os bailes eram elegantes, com homens de terno e mulheres de vestidos refinados. Aí começou o primeiro bloco de rua, o Bloco do Carvão, no início dos anos 1960: meia dúzia de pessoas batendo lata completamente pintadas de carvão e paravam em frente ao restaurante do Genoval e diziam: “Queremos um engradado de cerveja gelada. Ou você nos dá um engradado lá fora ou nós entramos aí pra beber”. Genoval, com o bar cheio, não tinha outra escolha a não ser servir as pessoas na rua. Aí a turma continuava para o Arrastão e fazia a mesma coisa, sempre seguindo um circuito. A diversão caiu nos ouvidos de uns coroas com poder aquisitivo maior, que passaram a financiar o chope. Aí passaram a sair da casa do Seu Mariano, um senhor que dava um caldo verde para o “esquenta” às 11 da manhã, e daí as pessoas saíam acompanhando um carro de som e um carro de chope, onde podia beber o quanto quisessem, até a estação do trem. Mas até então todas as pessoas se conheciam, então se no meio do percurso, por exemplo, se eu tivesse vontade de ir ao banheiro, batia na porta de um morador que, me conhecendo, deixava entrar. O circuito era saindo da casa do Seu Mariano, da Brasilinha, pegando a principal, indo até a estação do trem e voltando carregados, porque geralmente quem chegava até a estação já estava tão ruim que não conseguiam voltar sozinhos. Mas aí chegou em um ponto em que a cidade parou: era tanta gente, tanto carro, tanta bagunça, que ninguém entrava ou saía. Começaram a acontecer vandalismo, agressões, pessoas armadas, e os moradores locais passaram a ter medo de sair na rua. Os hotéis, restaurantes e pousadas começaram a se sentir prejudicados, porque recebiam uma quantidade limitada de hóspedes que, com suas famílias, também acabavam se sentindo inseguros de sair na rua. A massa eram pessoas que alugavam casas e quitinetes que acomodavam muito mais pessoas do que tinham capacidade real. Então em 2017 ou 2018, os moradores se uniram e foram à prefeitura pedir que se proibisse o carnaval de rua em Itacuruçá. Me sinto triste pelo rumo que a coisa tomou, alguns falam em reagir, mas acho que não tem mais jeito, não tem como voltar. Já no Iate Clube, do qual eu era sócio por ser veranista, tinham os bailes durante todos os dias do carnaval até o último, que terminava com o banho de fantasia no mar. E tinham os blocos do Axixá, da Brasilinha... Nas rixas de bairrismo, eu não gostava de brigas, e sim de namorar, mas tinha muitos amigos brigões. E o pessoal do continente brigava com o pessoal das ilhas e brigava com o pessoal de Muriqui. Nesta época, como do centro de Mangaratiba adiante as pessoas ficavam isoladas, então as bananas produzidas até em Paraty chegavam de barco para serem comercializadas em Itacuruçá. O desembarque era de terça a domingo, nunca às segundas, que era o dia de embarque dos presos ao presídio da Ilha Grande, que só depois passou para o centro. Os donos dos bananais, dos caminhões e dos mercados eram os portugueses broncos, e eles enchiam os caminhos Chevrolet Brasil com dúzias de cachos enormes. As canoas que traziam as cargas e as pessoas eram enormes, carregando 45 pessoas. Conheci um senhor que morava na Ilha Grande, ainda nessa época, e ele contou que ele e os pais iam a Itacuruçá em barco a vela para ir ao mercado porque o distrito tinha muitos mercados, uns quatro ou cinco, para atender as ilhas. O dono do mercado ia a São Paulo, enchia o caminhão de arroz, feijão e suprimentos e vendia para os pescadores anotando no caderninho, porque os pescadores vinham de toda a região para vender seus peixes em Itacuruçá e fazer dinheiro para comprar o que não conseguiam produzir. O Iate Clube de Itacuruçá chegou a ser o segundo mais importante em classificação da América Latina, pela quantidade de embarcações. Quando o trem chegou, em 1910, praticamente 15 anos antes de chegar ao centro de Mangaratiba, alavancou a região, que passou a reunir toda a população da Costa Verde e das ilhas para comprar e vender seus produtos. Mesmo depois da inauguração da estação do centro, Itacuruçá continuou centralizando a comercialização de produtos, contando até com um armazém para estoque. O distrito passou a ter inclusive fábricas de sardinha e de bananas. Lembro que em janeiro de 1966 caiu um temporal em Mangaratiba desses devastadores, como os recentes de Petrópolis. Começou a chover muito e eu estava no Iate, então resolvi dormir por lá. Quando acordei de manhã, abri a janela e vi a cidade alagada. Choveu muito mesmo. No caminho de casa percebi o estrago. No local onde passava o Rio Brasilinha não tinha mais rio, a lama tinha juntado tudo. A água desceu forte pela Serra Grande, levando tudo o que tinha pela frente. Até hoje não tem gente morando lá. O rio veio com uma força tão grande que levou a ponte de Muriqui. Quando entrei pelo portão do meu quintal tinha dormente de trem, trazido pela tromba d’água. Sem a ponte, a cidade ficou meses com a passagem dos trens comprometida, já que o que vinha do Rio era obrigado a parar antes da ponte, os passageiros desembarcavam, atravessavam uma ponte provisória, e continuavam até o centro de Mangaratiba em outro trem que ficou preso ali. Muita gente ficou ilhada em Muriqui e em outros pontos da região, já que teve muitas quedas de barreiras, e os caminhos que já eram precários simplesmente sumiram. Não existiam casas perto das margens do rio que passa hoje na Alameda do Canal; era cercado de pedras grandes, que simplesmente desapareceram na tromba d’água, provavelmente arrastadas para o mar. A Mazomba também acabou. Sobre a relação com as ilhas, recordo que sempre foi muito boa. Todos se conheciam e se respeitavam, coisa que só mudou depois do “progresso” trazido pela rodovia Rio-Santos. Lembro que na juventude tive um veleiro snipe. Se eu parava, sem vento, no meio da baía, logo se aproximava algum pescador que mudava o rumo só para oferecer ajuda: “quer que eu te reboque?”. Lembro que uma vez foi, em companhia de um amigo, visitar outro que morava em Sepetiba, apenas com uma garrafa d’água, sem levar um tostão no bolso. Ao chegar lá na Praia Dona Luiza, descobrimos que o amigo não estava e decidiram voltar. Assim que começamos o retorno, o leme do barco quebrou. Voltamos então para a Praia Dona Luiza, onde vimos um pescador de origem japonesa na areia, consertando uma rede de pesca. Cumprimentamos o pescador e perguntei se ele conhecia algum carpinteiro próximo que pudesse consertar o leme. “Eu conserto”, disse ele, e nos levou até a sua casa, onde fez o conserto, enquanto sua esposa servia a mesa, oferecendo lanche a nós dois. Leme pronto, perguntei quanto tinha custado o serviço. “Não é nada, não. Quando eu quebrar em Itacuruçá você me ajuda”, respondeu o pescador.